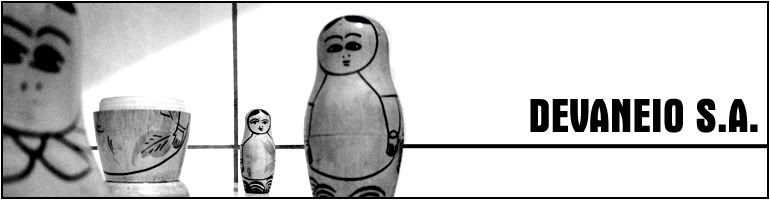Ela revira a fotografia entre os dedos, como uma criança que arranca as pétalas de uma rosa enquanto cantarola uma cantiga medieval – mas seu semblante é triste, ele sabe mesmo a essa distância. Ele a observa, guardião, não muito admirador; afinal, ela não é a primeira, tampouco a última, que ele vê sofrer. Ele aguarda paciente, seus olhos de céu serenos como uma nuvem semi-translúcida num sábado de manhã.
A foto flutua no abismo onde ela também se lança, e é quando ele abre o amplo par de asas brancas e mergulha através da atmosfera, quase preguiçoso. Seus braços desconhecem a noção humana de peso, dedos que dançam no ar com um salamaleque antes de abarcar a criatura. Os pequenos milagres diários como esse não chegam a ter qualquer graça especial, ele pensaria se não fosse o que é, mas para ele a Graça é uma só, diferente do conceito terreno de graça, conceito este que jamais seria concebível em sua opinião.
Jamais, pelo menos, até ele notar que a criatura o encarava com olhos fendados de âmbar.
Sorte – ou azar – já estarem no chão, pois ele a teria deixado cair sem um segundo pensamento; a ânsia mesmo de acabar com aquela existência é imensa, mas entra em conflito com o dogma da proteção aos desamparados. Duas forças iguais, fazer o bem e destruir o mal, e enquanto ele se debate com suas próprias leis, ela estica uma amostra de sorriso, ergue uma sobrancelha ironizando as estripulias do destino, e se vai embora deixando para trás o perfume indefectível de enxofre.
Ele segue por meses o rastro de seu cheiro, a espada num punho, o perdão no outro. As asas já perdiam as penas e ele sequer percebia, o tempo parecia mais frio ou mais quente, os pés doíam de andar. Tudo era estranho e tudo era novo, e ainda que fosse ruim, era bom, porque não era igual. A humanidade lhe entranhava dia após dia, e logo ele sentia fome, e logo vergonha. Entregam-lhe roupas numa catedral, servem-lhe um caldo ralo chamado "sopa" que incomoda a língua e amacia a garganta. Por um serviço, dão-lhe dinheiro; ele não compreende nem um, nem outro. Ninguém o questiona.
As palmas das mãos sangram da enxada, e o sofrimento é um conceito que ele entende, mas ele não pretende – não pode – se deter aqui por muito. Há que percorrer estradas e ruas (a pé; os tocos de osso das asas caíram com o tempo) até encontrá-la, seja lá por que ou para que for. Punição e salvação já se confundem e se embolam numa ânsia estranha, inominável. Ele chama isso de "missão", a quem quer que ouse perguntar.
Ele a encontra, enfim, num quarto perdido num motel perdido, lá onde os humanos não se distinguem dos anjos, dos demônios ou de qualquer outra coisa. Ela lhe sorri novamente como quem já o esperasse, e disso ele não duvida; volta-se para o corredor estreito com um meneio dos cabelos negros e deixa que ele siga o movimento de seus quadris até uma das portas (qual, não faria diferença).
É ali, entre os lençóis de algodão vagabundo de uma cama pouco iluminada que ele então cai em definitivo, cada vez mais fundo, cada vez mais desesperado, até que o último grunhido em uníssono desfigure a ambos. Ele é o pecado, agora, no abandono despido que observa o teto e espera que o arrependimento chegue – e ele nunca chega, e isso é que é o pior.
Ele nem sabe o que é um cigarro, mas quer acender um. Sentir a chama de nicotina devorando seus pulmões feito quimera e pôr tudo pra fora num anelzinho de nuvem semi-translúcida.
No alto do maior edifício da cidade é onde ele se encontra agora, olhando com curiosidade para a fotografia que ela deixou sobre o criado-mudo daquele quarto de motel. Atrás da foto ela escreveu "Segue-me e eu te salvarei", na língua que ele já não se permite falar. Não há sofrimento algum quando ele entrega o retângulo de papel à brisa e deixa o corpo pender para o infinito; atrás de si, ele sabe que está sendo observado por serenos olhos de céu.
Dia de Lavar a Roupa
Há 6 anos